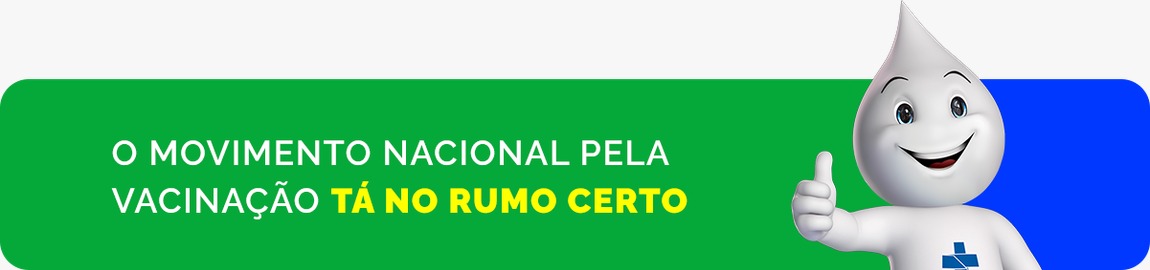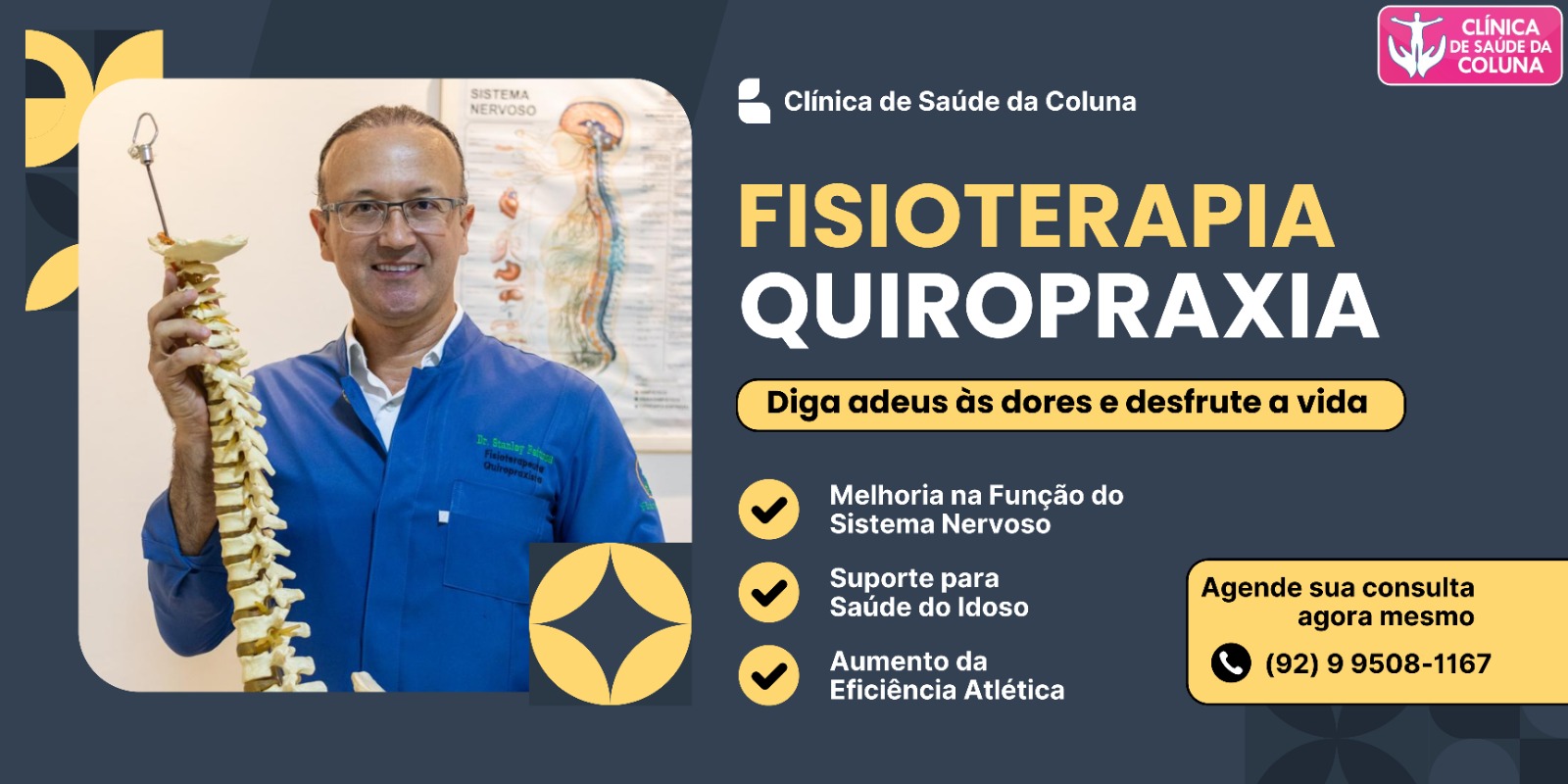Por Maria Clara Spada de Castro*
Nessa última semana, diversos meios de comunicação publicaram que pela primeira vez um ex-presidente e alguns militares seriam julgados por tentativa de golpe de Estado. Mas a História revela que não foi bem assim.
No contexto da década de 1920, houve perigoso envolvimento militar em revoltas conhecidas como “tenentistas”, que se opuseram à candidatura e depois à presidência do mineiro Arthur Bernardes. Naquela ocasião tivemos algo muito próximo ao que se julga agora no Supremo Tribunal Federal.
Uma reflexão sobre estes acontecimentos da História do Brasil se faz necessária para que possamos compreender algumas conexões entre passado e presente, e entender, à luz do fato histórico, o perigo que se apresenta ao cenário político quando militares saem praticamente ilesos de julgamentos. É a tão atacada e vilipendiada História que pode acender o sinal de alerta para todos nós.
1922
Em 1922, após diversos levantes militares em Mato Grosso e Rio de Janeiro, com destaque para o Forte de Copacabana, iniciado em 5 de julho, os envolvidos foram processados. A denúncia, feita pelo Procurador Criminal da República da época, Carlos Costa, expunha que os envolvidos, militares e civis, rebelaram-se contra as autoridades constituídas.
O ex-presidente da República, marechal Hermes da Fonseca, foi um dos envolvidos e considerado líder do levante. Ele chegou a ser preso por seis meses, até que seu advogado, Evaristo de Morais, argumentou que o marechal e outros estavam presos sem culpa formada e sem mandado de autoridade competente. Segundo a defesa, os crimes pelos quais foram acusados, tipificados como militares, eram na verdade políticos. Com esse argumento, obteve um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal, que passou a julgar o caso a partir de janeiro de 1923.

Marechal Hermes da Fonseca.
A denúncia se baseava no artigo 107 do Código Penal de 1890, assim como a pronúncia, que só saiu em 28 de dezembro de 1923, três meses depois da morte do marechal. O referido artigo estabelecia o seguinte:
Art. 107. Tentar, diretamente e por fatos, mudar por meios violentos a Constituição política da República, ou a forma de governo estabelecida:
Pena – de banimento, aos cabeças; e aos corréus – a de reclusão por cinco a dez anos.
No entanto, após recursos, o delito acabou classificado no artigo 111:
Art. 111. Opor-se alguém, diretamente e por fatos, ao livre exercício dos poderes executivo e judiciário federal, ou dos Estados, no tocante às suas atribuições constitucionais; obstar ou impedir, por qualquer modo, o efeito das determinações desses poderes que forem conformes à constituição e às leis:
Pena – de reclusão por dois a quatro anos.
Exatamente dois anos depois dos levantes do Rio de Janeiro, foi a vez de São Paulo, seguido de Sergipe, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul terem novos movimentos militares. Os presos e os tantos foragidos da justiça dos levantes de 1922 continuaram a conspirar. O governo, na tentativa de desarticular novas revoltas na antiga capital, Rio de Janeiro, promoveu transferências de militares para locais considerados distantes do centro político. Tal feito terminou por espalhar os núcleos revoltosos pelo país ao mesmo tempo em que a repressão sobre 1922 estimulava solidariedades entre os militares.
1924
O movimento de 1924 em São Paulo começou no mesmo dia daqueles do Rio de Janeiro, em 5 de julho, com um levante militar no quartel do bairro de Santana, acompanhado por batalhões da Força Pública, no bairro da Luz. Diferentemente dos levantes de 1922, logo a revolta tomou a capital paulista com ampla adesão popular. A cidade passou a ter suas ruas recortadas por trincheiras e, na tentativa do governo de retomar o controle, foi intensamente bombardeada, com projéteis atingindo residências e vitimando famílias inteiras. A guerra civil durou 23 dias na cidade e com o fim do conflito, a contagem oficial das vítimas parou em 503 mortos e 4.846 feridos, segundo relatório da prefeitura. Dados de agências internacionais apontaram para cerca de mil mortos. Trata-se do maior massacre urbano da história do Brasil Republicano.
O processo judicial movido pelo Estado contra os revoltosos de 1924 indiciou 667 pessoas, sendo parte delas já processadas anteriormente por envolvimento em 1922. O processo de 1924 terminou sendo composto por 171 volumes e é o maior processo até hoje existente no estado de São Paulo, sendo objeto de apreciação por mais de uma vez pelo Supremo Tribunal Federal, que julgou interpostos de decisões.
Em um primeiro momento, com relação à classificação do delito, os revoltosos foram acusados de, na madrugada de cinco de julho de 1924, se levantarem contra as autoridades constituídas com o objetivo de implementar uma ditadura pela via armada, na qual seriam abolidos, por meios violentos, a Constituição e a forma de governo estabelecida. Mais uma vez, assim como em 1922, militares foram acusados com base no artigo 107 do Código Penal. No entanto, a Constituição de 1891, em seu artigo 76, afirmava que os oficiais do Exército e da Marinha perderiam suas patentes por qualquer condenação em mais de dois anos de prisão, nesse sentido, os militares processados corriam também o risco de serem excluídos de sua corporação.
O juiz federal da primeira instância, que primeiramente julgou o caso, condenou os revoltosos com base no artigo 111 do Código Penal. Tal alteração nos artigos, que também aconteceu em 1922, significou, para os revoltosos militares, uma pena mais branda em comparação com a indicada pela denúncia.
Todavia, em 1926 e 1927, o STF julgou o recurso interposto pelo procurador da República e a apelação do Ministério Público para reforma da sentença, terminando por reclassificar o crime no artigo 107. Dessa maneira, determinava a condenação de dez anos de reclusão aos cabeças e cinco anos de reclusão aos coautores. Aos cúmplices, as penas variavam entre seis anos e oito meses e três anos e quatro meses de reclusão.
Em 1929, os condenados entraram com embargo ao processo, sendo desta última vez o delito enquadrado no artigo 108: “Tentar, pelos mesmos meios, mudar algum dos artigos da Constituição. Pena: de reclusão por dois a seis anos.” Nessa classificação, deixava de haver os condenados enquanto “cabeças”, sendo os assim anteriormente classificados somados aos “coautores”, com a condenação de dois anos de reclusão.
No processo da Revolta de 1924 em São Paulo, a maioria dos indiciados era civil, 61%, mas a maioria dos condenados era militar do Exército. O fator que ampliava a responsabilização dos militares era a circunstância agravante da traição. Segundo o procurador da República,
os únicos cidadãos que estão obrigados à manutenção das leis do País e a sustentar as instituições constitucionais são os militares, que para tal prestam compromisso formal. Os civis terão o dever de respeitar e cumprir as leis, mas não o de mantê-las, donde se infere que há distinção, e bem grande entre a situação dos civis e a dos militares implicados neste processo.
No acórdão expedido pelo STF em 1929, 176 foram condenados dos 667 revoltosos indiciados. Os cúmplices em grau máximo, todos civis, tiveram penas maiores (quatro anos de reclusão) do que os coautores (dois anos de reclusão), categoria que incluía generais e outros tantos militares outrora classificados enquanto cabeças do movimento.
O discurso da tutela militar sobre a República brasileira e os casos de anistia
O movimento de 1924 em São Paulo acabou sendo composto por grupos sociais e políticos muito diversos. O núcleo militar, que desde 1922 conspirava e possuía uma pauta bastante difusa, se assentava na ideia de que anteriormente derrubaram a Monarquia, e por conta disso se colocavam como únicos capazes de pensarem as reformas políticas a serem feitas e articulavam a ideia da existência de uma classe militar, superior aos civis, com deveres patrióticos e morais de tutela para com a Constituição e a República.
Por outro lado, a adesão popular, que sofreu a maior repressão estatal, levantou suas próprias demandas e ocorreu devido às aflições que a guerra impunha ao cotidiano com a cidade tomada nos dias de revolta. Com a suspenção dos trabalhos nas fábricas e comércios, muitos começaram a enxergar no alistamento às forças rebeldes uma possibilidade de sobrevivência, já que ali recebiam alimentos e soldo.

Revolta de 1924.
A Revolta de 1924 reuniu múltiplos interesses e não se limitou ao movimento militar, que acabou ganhando mais destaque na História, refletindo o protagonismo que esse grupo teve no Golpe de 1930. A construção do “tenentismo” simplificou intencionalmente a diversidade social e política dos envolvidos, retirando a agência da agitação popular e centralizando a ação no Exército, como se os militares fossem políticos por excelência, em contraposição a grande massa popular, que precisa ser por eles tutelada, reforçando a ideia do poder moderador, como garantidor da República e da Constituição.
Com relação ao desfecho dos processos de 1922 e 1924, em 17 de setembro de 1930 o Supremo Tribunal Federal julgou prescrita a ação dos levantes de 1922. Dias depois, em 3 de outubro, o movimento armado, sob a liderança de Getúlio Vargas e do tenente-coronel Góis Monteiro, teve início, com o objetivo imediato de impedir a posse de Júlio Prestes, eleito presidente da República. O movimento tornou-se vitorioso em 24 de outubro do mesmo ano e Vargas assumiu o cargo de presidente provisório em 3 de novembro. Cinco dias depois, em 8 de novembro de 1930, foi concedida anistia aos revoltosos de 1924 por meio do Decreto nº 19.395.
A partir desses casos, de 1922 e 1924, podemos fazer duas reflexões, uma sobre a necessidade de um redimensionamento do lugar dos militares na história e na política brasileira, e outra sobre os cuidados que devemos ter com as discussões sobre a anistia para militares indiciados e condenados por golpe de Estado.
Com o passar do tempo, o processo de modernização do Exército brasileiro, desde o início da República, não previu um afastamento destes do mundo político ou um controle sistemático por parte da sociedade civil, como é característica de democracias liberais mundo a fora. No Brasil, as Forças Armadas foram se firmando, intervindo na arena política através de golpes e contragolpes. Historicamente, estas intervenções que se propuseram trazer estabilidade política trouxeram justamente o efeito contrário, dificultando a consolidação de um estado democrático inclusivo, efetivamente republicano.
Embora tenhamos mecanismos que buscam estabelecer limites para o intervencionismo e o envolvimento político dos militares, eles necessitam ser fortalecidos constantemente. Não atoa recente acompanhamos, mais uma vez, outra tentativa de golpe de estado e o aumento dos militares nos espaços de poder. Com já apontado por José Murilo de Carvalho, “boa parte da responsabilidade pela interferência dos militares na política cabe também aos civis”. A chegada da República por meio de um golpe militar contra o governo imperial marcou e definiu, até então, a atribuição do Exército enquanto garantidor dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Não podemos negar a importância de discutirmos tal dimensão na disputa política no contexto brasileiro e nem omitirmos a responsabilidade civil para que determinado grupo alcançasse tal influência. Politizar essa discussão e redimensionar o lugar das Forças Armadas na história e na política é essencial e urgente para a consolidação da democracia brasileira, e isso perpassa a garantia de não anistia aos envolvidos em 8 de janeiro para que não tenhamos novas tentativas de golpe, pelo menos não tão cedo.
Os julgamentos por tentativa de golpe não é novidade na História do Brasil. Embora pouco recorrente e por isso pouco lembrados, tivemos os casos a partir de 1922 e 1924. No entanto, nunca julgamos os golpes de 1930, 1937 e muito menos o de 1964. Tivemos julgamentos apenas em casos de não concretização, de tentativas, jamais dos consumados.
No entanto, nestas raras experiências em que houve o julgamento, o movimento continuou e anos depois o golpe acabou efetivado. Os levantes militares de 1922 e 1924 sustentaram politicamente a ruptura de 1930. Por fim, os outrora julgados e condenados conseguiram ou se deram, eles mesmos, a anistia. Inclusive, militares anistiados tiveram agência no Golpe de 1964, pois o decreto de 1930 os permitiram voltar para as fileiras do Exército.
A novidade possível do julgamento de golpe de estado agora em juízo está na não concessão de anistia e na contenção de futuros novos golpes. O que se coloca na ordem do dia é a resistência da sociedade contra um movimento que quer ameaçar a democracia brasileira e destruir a Constituição cidadã de 1988, marco histórico que assentou o Estado Democrático de Direito.
*Professora de História, doutora pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autora do livro A Revolta de 1924 em São Paulo: para além dos tenentes.
Fonte: ICL Notícias